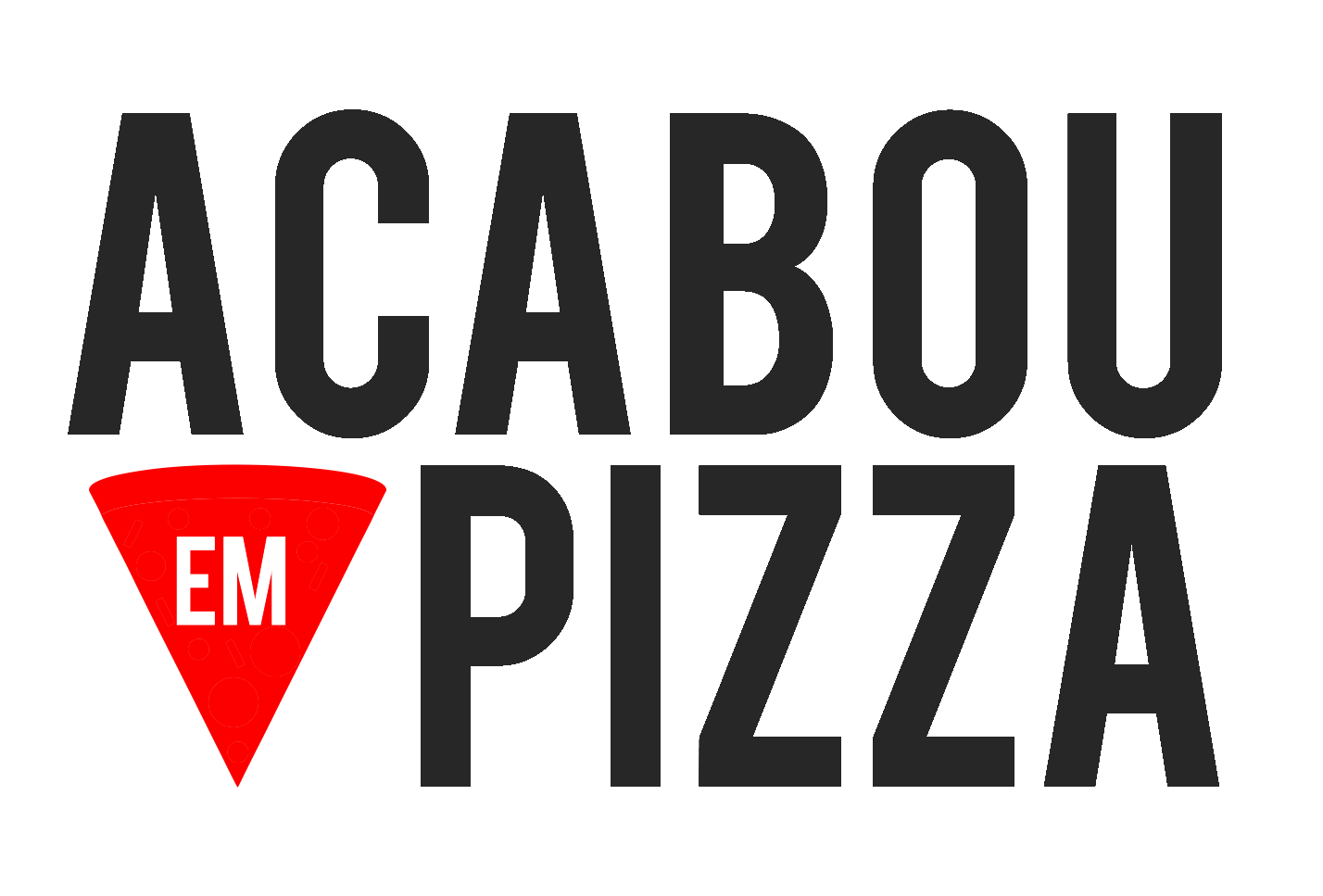Na esteira das reuniões históricas de grupos musicais dos anos 90 e 2000, a banda carioca Forfun voltou à sua formação clássica após nove anos de hiato. No dia 08 de novembro, Danilo Cutrim, Vitor Isensee, Rodrigo Costa e Nicolas Fassano subiram ao palco do Pepsi On Stage, em Porto Alegre, para dar continuidade à turnê NÓS, que até agora arrastou os fãs às apresentações em 14 cidades espalhadas pelo Brasil.

Só tem Pepsi, pode ser?
O Pepsi On Stage é uma entidade única na cultura porto-alegrense. Ele não tem a importância histórica de um Araújo Vianna, nem desperta o sentimento de ocupação cidadã dos lugares públicos como o Anfiteatro Pôr do Sol, muito menos tem em si o fator cool e alternativamente diversificado do Opinião; mas o Pepsi carrega dentro de suas paredes algo que tanto seus modernos quanto arcaicos competidores não conseguem mobilizar com tanta eficácia: a nostalgia advinda do envelhecimento de uma geração.
Entrar no Pepsi On Stage é adentrar um templo particular da história da música pop brasileira. Você não está pisando no solo sagrado de uma igreja, nem sequer está entrando em um terreiro seminal para a reconstrução da memória de um tempo. Naquele retângulo de concreto e metal, sob as asas dos aviões que decolam do Salgado Filho, as divindades são outras – mais próximas do chão do que do céu, mas ainda assim místicas e veneráveis.
Fale com qualquer millenial porto-alegrense e ele vai ter uma história em que o cenário é o Pepsi On Stage. Os atores envolvidos quase sempre se repetem: Charlie Brown Jr., CPM 22, Fresno e o próprio Forfun. Os contos também trazem outros elementos em comum, como porres de bebidas bagaceiras, flertes mal-sucedidos, cochilos não-planejados nas dependências do aeroporto, brigas, roubos e ladaias da desventura juvenil. O Pepsi é um desses locais que basta você conjurá-lo imageticamente na cabeça para que toda sorte de experiência sensorial seja de pronto reativada: o cheiro viscoso do energético Baly, o calafrio da rajada de um ventilador soprando contra a pele úmida de suor, o sabor frutado de um lip gloss da Avon.
Todo esse reconhecimento de gramado é para situar o leitor na textura espacial-emocional que permeou o show do Forfun em terras gaúchas. Sem compreender o que o grupo carioca significou para um cenário restrito da música brasileira nos anos 2000, torna-se impossível apreender os efeitos psicoafetivos que esse retorno da banda do plano das ‘coisas-já-passadas’ causou no espírito quase envelhecido de uma porção notável do público consumidor do rock do início do século.
Nosso sol brilha mais que o da Califórnia
O Forfun é, por excelência, o exemplo primordial da incorporação do gênero pop-punk pela cena do rock brasileiro. Talvez existam bandas que se encaixem melhor nas doutrinas harmônicas e melódicas do pop-punk, como o Strike, mas convenhamos que os rapazes de Juiz de Fora sempre estiveram mais afinados com elementos estéticos do hardcore e do skate punk. Aliás, a afirmação de que o Forfun é o grande produto do pop-punk brasileiro pode ser um tanto contra intuitiva para os adeptos dessa vertente, já que a maioria das bandas, gringas ou nacionais, não comungam de grandes denominadores comuns em termos de estilo e expressão.
O argumento a favor do Forfun é uma questão de éthos. Não havia lugar mais apropriado para o pop-punk brasileiro germinar do que o microcosmo da vida privilegiada no Rio de Janeiro, despreocupada e inconsequente, ao mesmo tempo que nascia as primeiras faíscas de uma revolta difusa, que é a vontade de ser algo a mais e, assim, se entenda mais descolado do que se é. O pop-punk é a manifestação sonora da angústia adolescente frente às novas configurações de sociabilidade do século XXI, eternamente condenada ao besteirol, reaproveitando a intensidade e o amadorismo do punk para exprimir conflitos básicos e universais da vivência jovem.
Não seria na cena paulista, em cima das rodas dos skates, que o corpo material do pop-punk iria surgir. A consciência sisuda e política dos paulistanos já estava inerentemente comprometida com o desenvolvimento do hardcore, apesar de alguns dos seus representantes mais receptivos às melodias do pop, como o CPM22, serem justos correlatos do gênero. Teria de ser nas águas salgadas da Baía de Guanabara, no seio de um povo que sampleia e batuca, o ponto crucial de convergência entre os ouvidos que desejam o frescor sonoro das soundtracks do American Pie e quatro moleques sensíveis às recentes alterações paradigmáticas no consumo de música.
A questão central é que o álbum Teoria Dinâmica Gastativa (2005), produzido por Liminha, é o ápice do pop-punk tupiniquim. Está tudo ali: o fast-pace californiano das baterias, as letras refletindo diversas nuances da síndrome de Peter Pan, pitadas de brasilidade aqui e ali, principalmente nos momentos mais groovados do disco – certamente inspiradas na sabedoria rítmica do produtor. Na época, foi um prato cheio para vários estômagos que estavam vazios. Há de se conceber a condição a qual vários dos garotos e garotas acessaram a obra: apartados da tropicalidade tão natural para os membros da banda, milhares de almas tenras tomaram a semiosfera do Forfun como referência do ideal de juventude que aspiravam; isto é, o bodyboard, a praia, o calção de tactel, o mate-limão, o sotaque chiado, a lábia, o carisma sedutor, o Windows XP, os versos no subnick do MSN, o universo irrestrito do Kboing, as histórias de verão, o boné para trás (ou sem?), a babilônia alucinada dessa geração.
Passada a febre delirante de Teoria Dinâmica Gastativa, o Forfun enveredou por caminhos que solidificaram seu sucesso enquanto também acrescentavam outras camadas de complexidade à sua sonoridade. Seguiram-se os álbuns Polisenso (2008) e Alegria Compartilhada (2011). O primeiro ancorado ainda no peso dos power-chords, cedendo frestas pontuais às entradas do dub no repertório de levadas da banda, mais espiritual e cósmico; o segundo sendo o mais desprendido da fórmula original até então, abusando dos sintetizadores e dos flows de hip-hop, mergulhando de cabeça na exploração de novas roupagens da música brasileira. Assim como The Offspring lançou mão de distintos recursos estéticos para evidenciar a cultura CalMex em que estavam inseridos, o grupo carioca passou a se enxergar como os portadores do estandarte da cultura tropical, refletindo nas suas composições a busca por uma originalidade brasileira onde afluiriam no mesmo delta a linha evolutiva da música popular brasileira e as promessas de renovação das técnicas digitais.
Em 2015, o Forfun entrou em pausa indefinida. Como sempre, sobraram para as divergências criativas o fardo da separação. O álbum Nu (2014) não caiu no gosto do público. Nesse último registro, resolveram embrenhar-se em um matagal denso que já ceifou muita banda por aí: apostaram no amadurecimento político das letras, que no fim soavam como opiniões esparsas e óbvias, gestadas no ventre das Jornadas de Julho de 2013. Mesmo que a paisagem sonora ensaiasse um tímido porém interessante retorno às notas encorpadas de Polisenso. A real é que o Forfun teve de trocar de nome para que a sua veia crítica fosse levada a sério. Em 2016, sem a companhia do baixista Rodrigo Costa, Danilo, Vitor e Nicolas aliaram-se à Pedro Lobo para criar o BRAZA.
Deixando uma marca indelével no imaginário juvenil do início do século, a formação clássica do Forfun apartou-se dos palcos e foi relegada aos recônditos da memória coletiva e, em cada novo trabalho do BRAZA e nova guinada reacionária de Rodrigo os fãs sentiam que aqueles bons tempos eram apenas isso: bons tempos. Só não contavam que o auge dos impulsos nostálgicos apropriados pela indústria cultural do capitalismo tardio teria efeito prático. Mobilizando as afeições de cada self alheio, o Forfun voltou a tocar, e o resto é passado e presente e futuro.
Finja que você ainda tem 17 anos e tudo ficará bem
O show do Forfun não tem mistério: a pauleira estoura, as rodas abrem, o público passa a gritar e a pular e a dar encontrões uns nos outros. É assim que é ou, pelo menos, é isso que você espera que seja quando compra o ingresso. Com um pouquinho de atraso, a banda subiu no palco após uma vinheta narrada por Rafael Portugal ser reproduzida no telão. É interessante analisar os recursos audiovisuais empregados nesta apresentação. O Forfun faz parte da geração dos nativos digitais – concomitantemente, estavam inseridos no ecossistema músico-visual da MTV, que revolucionou a forma de produzir e consumir produtos musicais a partir dos anos 90. Volta e meia, os músicos param de tocar e dirigem-se ao backstage, nesse instante o telão, à guisa de cinema, mostra pequenas compilações de momentos em vídeo: os rapazes nadam em uma cachoeira, batem uma bola no saudoso Rockgol, divertem-se na praia, trocam piadas nos camarins – capturados em filme a versão de seus corpos que mais reconhecemos, ainda jovens garotos, ostentando cabeleiras, brincando de serem astros do rock.
Mais do que nostalgia barata, os vídeos criam uma sensação de intimidade. Somos convidados a viajar no tempo e no espaço, ingressando no convívio interno dos quatro artistas como se fôssemos velhos amigos. A instituição Forfun, sempre atenta às demandas do marketing e da divulgação, sabe que o seu público atual não quer nada de novo. Pelo contrário, desejamos a suspensão da cronologia passante, sem promessas de futuro, como se de alguma forma aquelas três horas e pouca de concerto pudessem conservar-nos num passado perpétuo e romanticamente idealizado. O set-list abre com o clássico Hidropônica, para vir na sequência a não menos icônica Good Trip e estaciona em Dia do Alívio, rodando em alta octanagem quem esperava aquela descarga imediata de energia, mordendo para depois assoprar.
Nessa hora, é difícil escapar de um banho de bebida ou de um pisão no pé, e quem reclama disso não entendeu nada. Mas nem só de moshpits vive o espectador. O intenso espetáculo por vezes dá lugar a uma sessão comedida de baladas de reggae. O repertório do Forfun é pensado como um eletrocardiograma: uma linha reta com picos e vales contabilizando o ascender e relaxar dos batimentos cardíacos da plateia. O que poderia ser deixado de fora é o tanto de falação que rola durante algumas pausas. Uma colher de chá: os membros da banda estavam claramente impactados pelos efeitos da trágica enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no final de abril e talvez encabulados pelo cancelamento do segundo dia de show em Porto Alegre. Contudo, ficou cansativo ter de ouvir reiteradamente sobre um assunto que, por mais que seja nosso dever histórico sempre lembrar, naquele momento queríamos esquecer.
No mais: deveria ser considerado sacrilégio tocar quaisquer canções do Teoria Dinâmica Gastativa de maneira acústica, especialmente músicas emblemáticas como O Melhor Bodyboarder da Minha Rua, Mentalmorfose e 4 A.M. Mas foi o que fizeram. Eu queria poder arrancar aquele violão da mão do Danilo e quebrá-lo em pedaços como fez o Sérgio Ricardo naquele Festival da Record em 1967. Tudo bem, eu entendo que eles já são quarentões e deve ser complicado dispor da estamina necessária para conservar a voltagem considerável do show sem uma trégua como essa. O ponto é: existem músicas no acervo para que o pocket show acústico faça sentido, como, por exemplo, Cigarras, Minha Jóia, Dissolver e Recompor. Pelo menos, teve uma belíssima homenagem a Fresno com um cover de Onde Está.
Precisamos falar sobre Rodrigo Costa. No intervalo que se seguiu após a separação do Forfun, Rodrigo declarou que a banda havia se separado por questões ideológicas, afirmando que seus companheiros possuíam “viés de esquerda” enquanto ele tinha se tornado adepto de toda sorte de bizarrices olavistas. Rodrigo declarou apoio a Bolsonaro, sendo de conhecimento público que os membros do Forfun eram chegados aos filhos do ex-presidente nos dias de salada. Os tuítes problemáticos tornavam virtualmente impossível uma reunião da banda aos olhos dos fãs. A certa altura do show, Vitor Isensee apresentou o baixista ao público como “um exemplo de resiliência”. O ar adensou, como se as partículas de ar estivessem se preparando para uma provável vaia. O que sucedeu foi uma ovação praticamente generalizada ao nome da figura dissonante do grupo. Quem não aplaudiu, calou-se, e, por consequência, consentiu. Pode-se dizer o que quiser sobre Rodrigo: sim, ele é careca; sim, ele é bolsonarista; sim, ele já era uma figura duvidosa desde antes do agravamento entre os polos políticos no país. O que seria conversa fiada é negar a musicalidade magnífica que ele tem conduzindo o contrabaixo do Forfun.
O Forfun é Rodrigo tanto quanto Rodrigo é Forfun. São indissociáveis, atados pelas cordas do destino. O que nos resta a fazer é tratá-lo como aquele parceiro de infância que fala com convicção asneiras fora do limite do aceitável mas cuja amizade é tão longa e sólida que é inviável pensar em um rompimento completo. De resto, o show seguiu o script, tendo seu apogeu na porção final do set, como Constelação Karina, Seu Namorado é um Cuzão, Terra do Nunca, Cara Esperto, Costa Verde e a derradeira História de Verão. A galera tremeu e bradou, extasiada. E a longa marcha se deu: as meias de cano alto sujando ao pisar nas poças d’água, joelhos piando no contorcer de ossos, torsos descamisados, o cheiro de maconha e espetinho, as luzes de Porto Alegre dando cotoveladas nas milhões de estrelas coloridas, uma noite de pretéritos imperfeitos na capital gaúcha.
Texto: Mateus Rolim.